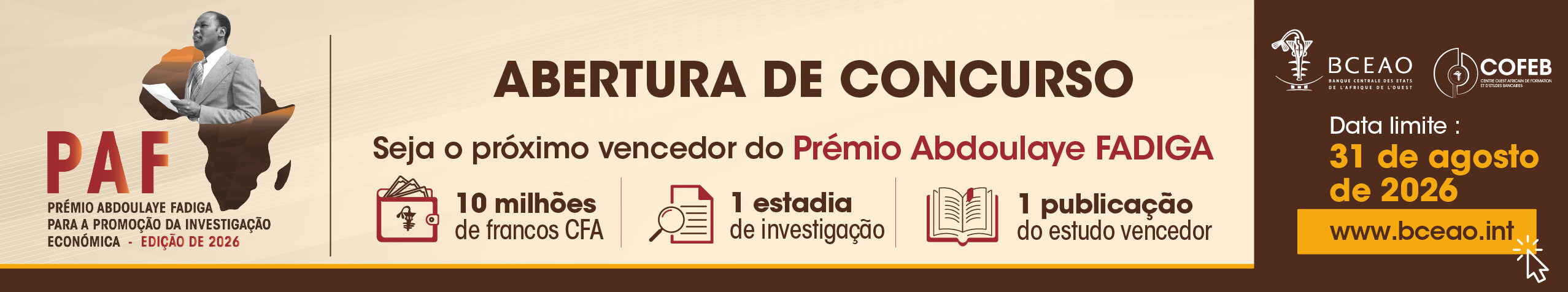Há muito que não escrevo. Mas constantemente vou pensando nas coisas, nos fatos da vida, nos eventos narrativos que o cenário social nacional vai me proporcionando. Por isso, decidi contar a história desta exuberante menina guineense. Tenra, bela, escultural e sublime.
Para dizer, outrossim, que os tempos são outros. Até porque parece existir depois da náusea provocada pelo melhor presidente do mundo, uma lufada de vento no país.
A nossa pátria parece que está a começar a engatinhar-se. Ora, como todos sabem, nem tudo são rosas, muito menos ainda um mar de rosas. Parece que estão, de novo, e sempre eles, dispostos a importunar a nossa paz social, a nossa saúde física e espiritual, com os sobe-e-desces de governos desgovernados. Todos eles assistidos, assessorados, e estabelecidos nos porões subterrâneos da ignorância e apatia geral.
Mais uma vez, estou em crer, que esta ventania escapará das paredes de concreto construída sempre pela grande máfia nacional.
Sei que o tempo é de escuridão quase total. E o sol altamente sufocante. O ar, cheio de poeira do saara; está confusamente irrespirável. Mas sejamos otimistas para que a utopia não morra afogada no lamaçal da marginália nacional.
Assim:
Chovia tanto no dia da morte de meu avô que eu não via quase nada. Nada estava clara, e nem parecia, a bem da verdade, que ia estar claro. Tudo parecia uma imensa escuridão caminhando em direção ao abismo. Nada de claro parecia vislumbrar no horizonte. Nada mesmo. Tudo me parecia sob céus estranhos de nuvens claras, porém paradoxalmente escuras.
Perdida na multidão de guarda-chuvas naturais que pendiam sob o céu cinzento de Blim-Blim, não dava por mim. A minha consciência vivia uma inconsistência tenebrosa. Eu não sabia por que queria a todo custo me apressar. Me apressar para vida ou para a morte?
Tudo parecia que era um grande absurdo, de que adiantava correr, chorar, karmusar, espernear ou, até mesmo por incrível que pareça, sorrir a longa vida que ele teve (e que, provavelmente, não terei). Tudo o que tinha sentido estava agora para mim sem sentido algum. O amor e a morte andam juntas? – Inquiria de mim para mim.
Ele estava lá estirado para sempre no chão pesado, sagrado de oferta. Ele estava morto. Ou parecia que estava morto, já que ninguém morre nesta terra, o que se faz, na verdade, é uma grande viagem para junto de Deus, diziam os mais velhos. Esta era a sabedoria que nos ensinavam quando criança. A gente cresce; e não vê os viajantes voltando, mas ninguém pergunta. Não é por medo, mas por necessidade de acreditar que um dia a gente há de se encontrar nalgum lugar.
Ia seguramente me esperar sem se mexer, acreditava eu para não admitir que meu avô estava morto. E para sempre.
Esperar para mais um dia de bate papo entre avô e neta. Não sabia, exatamente, o que fazer, o que buscar nos meandros da minha memória de menina, coisas da minha linda bajudesa[1], ou da minha longa infância perdida lá no fundo do túnel. Não sabia o que fazer. Mas tinha necessidade de tocar o corpo do meu avô, ouvir-lhe contar estória dos tempos imemoriais que pareciam tão novos que se confundiam com meu tempo. Tempos novos situados nos lugares de outrora.
O agora que foi outrora estava ali na minha frente perdida para sempre, restando apenas a esperança no porvir, no novo dia que se anunciaria para breve.
Imaginava-o assim mais próximo de mim, assim tão perto, tão colado ao meu peito sendo roçado pelos bicos dos meus mamilos. Parece que estou a ser curiosa, bico dos meus mamilos para meu avô. Exótico! Ou erótico? Já não sei o que dizer, nem o que fazer. Contudo, alimentava alguma réstia de esperança. A esperança de que o longo calvário que me fustigava a alma tivesse fim. Que seu choro fosse logo uma coisa passante, e não pesante. E, assim, sem dor nem calvário pesado, inerte, forte e intensamente doloroso.
Mas, espantosamente, o velho me olhou com um ar desamparado, ar de quem viu nos meus olhos sofrimentos seus, e talvez mesmo meus; porém manteve-se sempre com sua lucidez dos dias normais, dos dias em que o sopro da vida ainda imperava sobre o nosso lar, sobre o nosso chão, sobre o nosso destino.
Mas isto era certamente a coisa mais violenta, a coisa que mais queimava no meu peito, e doía, mais que doía, remoía o meu coração; e isto de senti-lo consciente de seu estado exangue era de tamanha dor inimaginável, indescritível e indejável. Estava exausto.
Cada respiração transmitia a constante insegurança do esvaimento.
Cada respiração se anunciava para ele como uma decisão final, insustentável, inadiável, improrrogável como um pudor de inacabado sentimento amoroso. Era uma dor indelével na insustentável leveza do seu ser homem. Nada parecia amainar-se. Tratava-se de um pudor ridículo em tais circunstâncias, ou em tais situações de quase morte. Um pudor irremediável.
Entretanto aconteceu. E tinha mesmo de acontecer. Uma noite inesquecível porque era ou foi sôfrega. Dolorosa.
A morte veio soturna e impôs-se à nossa família. O patriarca extinguiu-se como a última labareda de um vulcão adormecido há séculos. A morte reinou soberana, e submissa foi a dor da nossa família. Impotente. E o velho resistente, deu-se de embros para a vida, virando as costas aos seus. Foi-se num piscar de olhos. E o nosso cão, Labareda, latiu de frio, o que causou muito brio na nossa casa, no nosso chão sagrado de Biombo, chão de NDjirapa. O velho foi-se ter com ele? Ou foi-se ter com o nosso bisavô lá na terra dos nossos?
Com a sua morte imaginei que ele tivesse encontrado um bonito recanto de floresta, perto de um lago. Ou, quiçá, terá encontrado um jardim cheios de flores, onde os djamburerés batiam, serenamente, suas asas multicoridas, e onde o vento batia sobre as cabeças das pessoas, dando-lhes a paz desmerecida em vida. Pus-me a pensar que poderá ter fundado um novo reino por onde alugou a eternidade para se encontrar com Deus, vendo-o nos próprios olhos seus. Imaginei campos cheios de capins tal como a paisagem de sombra de Blim-Blim, o chão das sombras diáfanas tal como diáfano é o ar que se respira nele. E que inspira o materno amor eterno.
O sol, este senhor de si e soberano da natureza tropical, passava entre os galhos das árvores, dando à visão do dia como que o brilho de um sonho. Lutava contra a soturna noite para também ele reinar soberano, ainda que tudo parecia que a senhora morte não estava, nem um bocado, preocupado com ele, muito menos com sua soberania que, de certeza, ameaçaria a dele.
Devemos, em suma, sacudir a poeira, pois o país está a ser devastada por fortes ventos tempestuosos. Antes que venham os maremotos, ágir é preciso!
Caro leitor d’O Democrata, até a próxima, que o cronista precisa dormir para tentar esquecer o desassossego pátrio.
Por: Jorge Otinta, ensaíste, poeta e crítico literário guineense
———————————-
[1] Bajudesa, fase de juventude, mocidade.