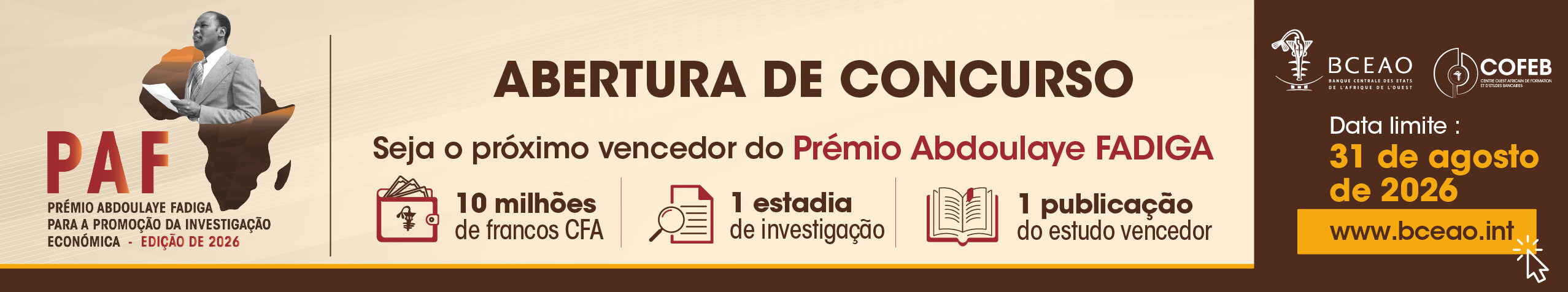Acordar numa manhã de chuva do mês de julho é um prazer para qualquer ser humano que se preze viver intensamente a vida. Sentir o bater da chuva no zinco de casa, em companhia de uma linda menina sapeca, safada, e exuberantemente atraente não é concerto a que todo o mundo tem condições de assistir. Nem dinheiro para pagar o lugar VIP.
O prazer, o calor, a água que lava o cheiro dos corpos enrolados nos lençóis matinais… o fólego que se solta na respiração ofegante… a intensidade dos gestos e dos afetos… a energia vital que se revigora… o clímax do prazer que cria faíscas…
Pois, pois, pois, vale viver no vale da esperança, ainda que possa haver, mais tarde, uma gota de lágrima a cair, a deslizar levemente no canto desesperança.
Há coisas tão singulares que indescritivelmente as podemos caraterizar, ilustrar, retratar. Há ainda pessoas tão afetivas, sinceras, belas e singularmente afáveis que dificilmente as podemos esquecer, deixar no ninho mais escondido do ramo mais alto de uma árvore.
Há, outrossim, lembranças tão inefáveis que nos perseguem num continuum necessário nos percurso retilíneo, linear, ondulado, aspiral da linha do tempo, Não apenas o histórico (krónos) mas também, e talvez principalmente, o espiritual (kayrós). Há fatos que geram fatos surpreendentes, há situações embarançosas que afetam negativamente o nosso caudal de águas que percorrem o terreno arenoso dos nossos corpos de seres finitos.
Mas, devo igualmente, aceitar, e talvez, e quiçá, que mesmo que a minha história pessoal, individual, seja tão bela, portanto; mesmo que atrelada a história coletiva do país em que soltei o primeiro grito para confirmar que estava com o sopro de vida de bilhões, e mais bilhões de potência, ou mais do que isso espero, não me sinto, em hipótese nenhuma de estar atrelado a ela. Pois não posso submeter-me a caprichos do passado em nome dum heroísmo que me sucumbe, me sujeita à ignorância, impedindo que os meus projetos e sonhos se conretizem, se tornem realidade, que sejam eficazes, eficientes ao ponto de eu me sentir cidadão com direito pleno à felicidade.
Não quero imaginar-me à míngua, desolado, impotente, incoerente, a bajular estruturas desestrutrantes desse tecido social já de si amargurante. Não, não, não…
Dói demais saber que os anos estão a passar, que a chuva diminuiu de intensidade, e com ela, reduziu-se o verde da natureza. Dói pensar nas horas a fio a passar sem que tenha os pés bem fincados no chão, sem que, por alguma réstia de esperança, possa imaginar-me com um padrão de vida decente, sem ter garantia de um futuro digno de fé, digno de trabalho altamente remunerado. Dói sentir-se impotente. Porém a pior dor é aquela em só vejo desilusões à vista.
No entanto para quem um dia pensou que o beijo fosse um queijo genuinamente guinense, e por conseguinte, fosse o queijo mais saboroso do planeta, custa aceitar a resignação em que eu, e os demais, espero que também se sintam assim, fomos votados à descrença generalizada tanto na pretérita história presumivelmente gloriosa quanto no atual momento da história do sequestro do nosso destino.
Rememoro aqui os tempos em que, à tarde, depois da sesta, tomava o meu chá. Tinha uma chávena de côr branca, quase que comportava meio litro. Era com ela que de manhã tomava leite. E à noite outra dose de leite para tentar sono do desassossego que dividia o tempo entre os meus estudos nos anos 90 na Faculdade de Direito e os momentos mananciais dos primeiros passos como professor de Latim nos Liceus Kwame NKrumah e João XXIII.
O chá fazia-me bem. Relaxava-me a mnemonia – como os gregos chamavam a memória – a Deusa da Reminisciência. Ou seja a deusa condutora de todos os tipos de história: de paixões à ilusões; de crenças à desilusões; de amizades (coloridas ou não) à amores (sinceros e/ou interesseiros); de fidelidades à traições; de confianças à deslealdades; do profano ao sagrado, enfim…
O país andou, zarpou, navegou, mas nunca levantou voo. No entanto, o chá, este continua um tanto amargo. Mesmo os amigos que eu convidava para uma sessão de chá, os meus hóspedes, já não sentem o gosto tão suave, doce e meigo que despertava em seus paladares. E no meu, o anfitrião.
Não sei o quanto ando com a cabeça. Também não sei o que posso dizer doutras pessoas. Temos ainda mentes sãs em corpos sãos?
Ganhar ou perder qualquer tipo de jogo é regra de ser humano. Quer seja jogo de futebol, quer seja jogo de amor, quer seja jogo político. Jogo é jogo. Resultados em todos os jogos são sempre vitória ou derrota. Apenas no Desporto Rei, se não me engano, é que há empate.
Quero a minha xávena com o delicioso chá que tomava com ela. Quero ainda acreditar que as pessoas ainda são boas o suficiente. E a natureza vislumbrante. Mesmo sendo eu uma pessoa estranha; no entanto, as pessoas, por incrível que pareça, algumas delas me recebem muito bem na rua, dão-me palavras de conforto pelo voo a solo.
Há, por conseguinte, um calor humano muito intenso, contínuo e profícuo.
Pensem, e se possível, partilhem comigo a saudade que tenho da minha Xávena de Chá. O chá dos anos que foram, das noites diáfanas que me proporcionava, das tardes fagueiras com bater, ao de leve, e ao mesmo tempo suave do brisa vespertina nos passeios que fazia à orla do Cais de Pinjiguity, nos bulícios da Cidade de Bissau.
Tanta saudade, e tanto sonho diruno motivante da paixão que tenho pelo meu país. Um mar de amores que inunda a minha crença no porvir que há de vir, mesmo que ateimosa esperança pareça, para mim na altura, uma mera quimera. Ou, quiçá, uma mera miragem em aragem. Mesmo assim ainda mantenho acesa a chama da fé que move montanhas, contornando-as.
Caro leitor d’O Democrata, tente também tu esquecer esta nova agenda do desassossego pátrio e durma sossegadamente bem.
Bissau (Antula), 12 de fevereiro de 2020.