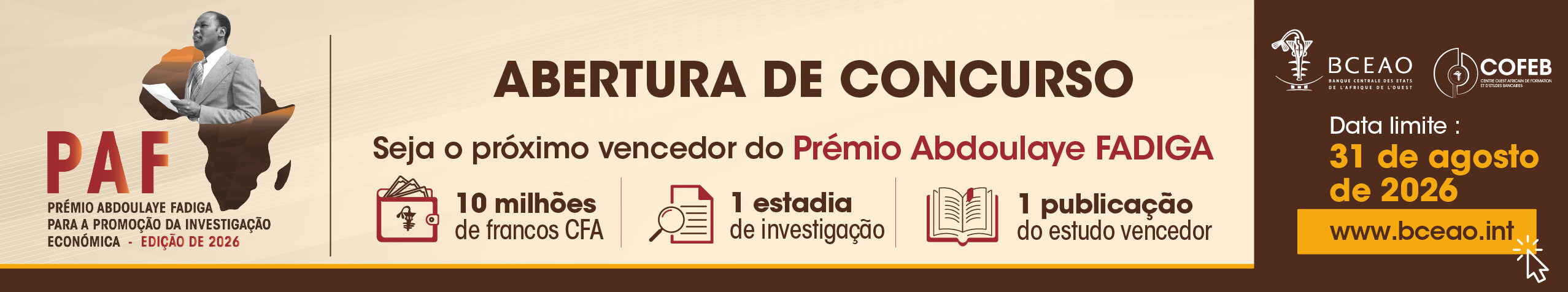Tornou-se tradicional africanos e africanas celebrarem, a cada 25 de Maio, o Dia de África. Há 59 anos, em Adis Abeba, Etiópia, nascia a Organização da Unidade Africana (OUA), desde 2002 União Africana (UA). Nesta data, discursos políticos geralmente vazios de conteúdo ressoam de apelos à união do continente para o seu desenvolvimento; conferências e palestras recordam os grandes nomes da História da África; e no seio da juventude africana as celebrações dividem-se entre a exibição do que se toma como sendo traços da “cultura africana” e outras, mais inconformadas, questionando os desvios nos propósitos que levaram à criação de uma organização que pudesse ser capaz de assegurar a unidade entre os países africanos independentes do imperialismo europeu.
Da geração dos fundadores da OUA, Kwame Nkrumah é, seguramente, aquele que apresentava ideias mais claras sobre a necessidade de unir o continente face ao perigo do neocolonialismo que espreitava os países recém-independentes das dominações, sobretudo, francesa, inglesa e portuguesa. Afinal essas independências foram seguidas de criação de organizações ancoradas aos conceitos de Francofonia, Anglofonia e Lusofonia que, mais do que manutenção das relações culturais e históricas despidas de propósitos de dominação das ex-colónias, procuravam (e ainda hoje procuram) perpetuar a condição de subalternos destas.
Na altura, a tese defendida pelo então Presidente do Gana era no sentido de a África se unir, progressivamente, numa federação de Estados que procurassem um fortalecimento conjunto nos domínios político, económico, diplomático, de segurança e cultural, objectivando evitar os perigos de balcanização do continente em organizações ou estados singulares facilmente submetidos à teia neocolonialista das potências imperialistas que não desistiam das suas pretensões políticas e económicas na África. Uma convicção formada em Nkrumah nos movimentos pan-africanistas das décadas imediatamente anteriores às independências dos países africanos e esboçada na busca de concretização de Estados Unidos de África.
Seis décadas depois da fundação de uma organização que tinha como horizonte a integração política e económica no continente, a África que hoje celebramos anda muito distante daquela imaginada e pela qual combateram Kwame Nkrumah, Sékou Touré, Patrice Lumumba, Ben Bella, Modibo Keita, Amílcar Cabral, Julius Nyerere e outros da sua geração, ou aquela defendida fervorosa e corajosamente por Thomas Sankara contra o que Alpha Blondy resume, assertivamente, por “50 anos de ziguezague política e escravatura económica” (in Le Cha-cha-cha du CFA, 2011), numa referência ao absurdo domínio económico-monetário da França nas regiões Central e Ocidental da África, um exemplo claro da consolidação destrutiva da balcanização do continente de que Nkrumah chamava atenção aos governos dos países recém-independentes.
No domínio político, os Estados africanos ainda não foram capazes de eliminar rivalidades entre si, nem evitar desejos de Estados mais fortes manterem regiões inteiras sob o seu domínio, com pretextos muitas vezes inconfessos, de que disputas territoriais por recursos naturais é apenas um dos motivos. Ao nível diplomático ou geoestratégico, a África continua a não ter a sua agenda própria, enquanto continente, nem os seus Estados individualmente conseguem relacionar-se de igual com o Ocidente. No domínio económico, a dependência de dívidas de entidades de monitorização económica como FMI e Banco Mundial não só impede os países do continente de consolidarem a sua soberania, como impossibilitam a sua organização económica independente da assistência técnica das mesmas entidades, cujas políticas nunca incitaram a melhorias na vida das populações. Na matéria de segurança, a constatação do Nkrumah é muito actual: nenhum Estado africano, individualmente, consegue defender-se de eventual agressão de uma potência imperialista. Exemplos da sua concretização não faltam: a Líbia está aí. Assim como Sankara avisava (e continua presente) que nenhum Estado, sozinho, conseguia resolver a asfixia financeira do continente face ao volume de dívidas contraídas junto das entidades financeiras acima referidas.
Perante este quadro de perigosa concretização da divisão do continente em regiões dependentes da tutela das forças neo-imperialistas, representadas por elites africanas no poder, estas muitas vezes desprovidas de compromissos patriótico e ideológico, a juventude do continente – que hoje até se reúne em organizações de oposição aos regimes no poder nos respectivos países – é chamada por uma missão geracional de revisitar os grandes ideólogos e combatentes pelas independências da África, sobretudo no que toca à necessidade de unir as fileiras para combater governos que não só recusam ao continente o trilho do caminho ascendente à efectiva união política e económica, capaz de conduzir ao progresso das suas populações, assim como mantêm as mesmas populações, maioritariamente jovens, sem acesso à educação de qualidade, sem cuidados de saúde decentes, nem emprego: garantias de uma vida minimamente digna de ser vivida.
Que África afinal celebramos: a sonhada e começada a inventar pela geração de Nkrumah, ou aquela em 59 anos “de ziguezague política e económica”, como denuncia Alpha Blondy?
Por: Sumaila Jaló – professor e activista
Sugestões de leitura:
Blondy, Alpha (2011). Le Cha-cha-cha du CFA, in Vision (disponível no YouTube).
M´bokolo, Elikia (2011). África Negra: história e civilizações (do século XIX aos nossos dias). Tomo II. Lisboa: Edições Colibri.
Nkrumah, Kwame (1963). Africa must unite. New York: Frederick A. Praeger.